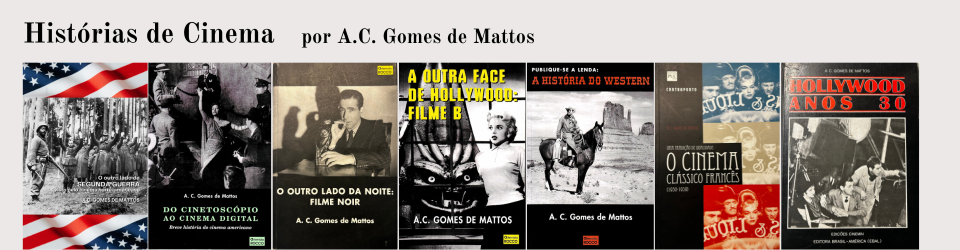Existe um mistério em torno da questão de saber se Raymond Bernard deve figurar entre os grandes diretores do cinema francês. Neste artigo, espero contribuir um pouco para decifrar esse mistério.
Raymond Bernard (1891 – 1977) nasceu em Paris, filho do escritor Tristan Bernard (pseudônimo de Paul Bernard) e de Suzanne Bomsel e, desde cedo, descobriu sua vocação para a arte dramática. Pode-se dizer que ele deu seus primeiros passos como ator com a idade de doze anos, quando Tristan escreveu, especialmente para seus três filhos, uma peça intitulada “Perdu dans l’ocean”, que deveria ser representada diante da família e de alguns amigos. Algum tempo depois, no colégio, Raymond pôde manter o gôsto pelo teatro, graças ao estímulo de seu professor de Literatura, Monsieur Montassut, que deixava o rapaz interpretar alguns papéis nas festas da escola.
Em 1907, atendendo aos anseios do filho, Tristan pediu conselho a seus amigos do teatro e Lucien Guitry (o famoso ator, pai de Sacha Guitry) lhe recomendou a professora Marie Samary, que trabalhara muito com ele e se dedicara a dar aulas de interpretação. Em 1912, após adquirir certa experiência com os ensinamentos de Marie Samary, Raymond pôde interpretar o papel de Fortunio em “Le Chandelier” de Alfred de Musset, contracenando com a renomada atriz Andrée Mégard.
Um ano depois, Raymond recebeu de seu pai uma notícia chocante: ele iria atuar ao lado de Sarah Bernhardt, a rainha do teatro de fama mundial, que estava então com 69 anos de idade. Sarah havia pedido a Tristan uma peça e ele então escreveu “Jeanne Doré” (inspirada no seu romance La Dernière Visite) e reservou para Raymond o papel do filho de uma viúva de origem modesta, Jeanne Doré (Sarah Bernhardt), que se tornou assassino pelo amor de sua amante, uma mulher casada. Raymond conservaria durante toda a sua vida a foto que lhe foi oferecida pela atriz com esta dedicatória: “A Raymond Bernard que foi o filho amado e criminoso de Jeanne Doré”.
Raymond chegou a ser convocado durante a Primeira Guerra Mundial, mas foi hospitalizado por causa de problemas pulmonares, e acabou sendo desligado do exército. De volta à vida civil, ele teve seu primeiro contacto com o cinema, novamente ao lado da grande Sarah Bernhardt, no filme Jeanne Doré / 1915, dirigido por René Hervil e Louis Mercanton e baseado na peça do mesmo nome. Depois disso, a ambição teatral que o atormentava, desapareceu. Como ele recordaria: “Pouco a pouco foi-se esfumando a atração violenta pela profissão de ator … O encanto se quebrou … O tempo havia passado”.
Em 1916, foi lançado na França, A Ferreteada ou A Embusteira / The Cheat de Cecil B. DeMille, que impressionou muito o ex-jovem ator (“primeiro filme onde se via as sombras e as luzes interpretar seus papéis”); porém seu interesse pelo cinema se desenvolveu através do interesse do pai. Léon Gaumont contratou Tristan Bernard para escrever o argumento de uma série de filmes cômicos curtos e, entre novembro de 1916 e abril de 1917, surgiram oito ou nove títulos dirigidos por Jacques Feyder. Raymond, por curiosidade, pediu permissão a Feyder para assistir à filmagem de algumas cenas e acabou se tornando seu assistente. Assim, ele foi aprendendo os fundamentos do ofício de diretor e se maravilhando com o pulso firme do metteur-en-scène belga, obtendo sempre os resultados que queria com sua calma extraordinária e suas indicações precisas.
Seguiram-se três filmes de média-metragem, realizados pelo próprio Raymond Bernard para Gaumont, Le Ranvin sans Fond / 1917, Le Traitement du Hoquet / 1917 e Le Gentilhome Commerçant / 1918, todos com argumento de seu pai e, finalmente, em 1919, ele teve a chance de realizar seu primeiro longa-metragem.
Depois da guerra, Henri Diamant-Berger, diretor e roteirista pioneiro do cinema francês, recebeu de Charles Pathé, a incumbência de viajar para os Estados Unidos, a fim de observar as técnicas de produção e distribuição de filmes. Achando sensatas as idéias desenvolvidas por Diamant-Berger no seu relatório, Pathé lhe permitiu colocá-las em prática e se tornar um “executive producer” à americana, criando a unidade “Films Diamant” sob sua proteção e financiamento. Como primeira produção, Diamant-Berger decidiu adaptar uma das peças de Tristan Bernard, que havia obtido mais sucesso, “Le Petit Café”, criada em 1911 no Théâtre du Palais Royal. Muito naturalmente, tendo tomado emprestado a peça de Tristan, Diamant-Berger contratou seu filho para a direção do filme e foi sob o nome “Raymond Tristan Bernard”, que ele foi creditado pela realização do espetáculo.
Uma das ambições de Diamant-Berger era dar ao cinema francês uma dimensão internacional, perdida pelo irrupção da guerra e, portanto, produzir filmes suscetíveis de serem exportados com lucro. Por causa disso, ele contratou Max Linder, conhecido no mundo todo. Linder havia partido para os Estados Unidos, onde rodou três filmes em 1917 e, com problemas de saúde, estava voltando à França para repousar em um sanatório na Suiça.
“Escrupuloso e inquieto”, conforme Diamant-Berger, Linder seria descrito por Raymond Bernard como “o cômico mais neurastênico que conhecí”. Durante a filmagem de O Café do Felisberto / Le Petit Café / 1919, Raymond verificou que o ator tinha uma verdadeira obsessão pelo gag. Diante da câmera, ele não queria fazer um gesto que não fôsse cômico, procurando constantemente enfeitar com seus próprios achados as instruções do diretor.
O próximo filme de Raymond Bernard, O Segredo de Rosette Lambert / Le Secret de Rosette Lambert / 1920, também com argumento de seu pai, recebeu uma acolhida triunfal da imprensa. Delicadeza de toques, finura de observação, harmonia do conjunto: Raymond foi reconhecido, clara e largamente, como um diretor com o qual se podia contar e que possuia um estilo.
Enquanto Diamant-Berger se lançava na sua aventura mais ambiciosa, a realização de Os Três Mosqueteiros / Les Trois Mousquetaires em doze episódios, que teria um êxito fenomenal, Raymond empreendia, pela primeira vez, um filme no qual seu pai não participava e que ele mesmo escreveu, La Maison Vide / 1921.
O personagem principal, Lebéchut (Henri Debain, que fora o protagonista também de O Segredo de Rosette Lambert), é um entomologista que vive sozinho na companhia de uma governanta e que vê sua vida transtornada pela chegada de uma jovem datilógrafa, que ele contratou e por quem se apaixona. Quando a moça vai embora, sua existência volta a ser vazia como a sua casa. Através desta história simples e melancólica, Raymond Bernard quís explorar as possibilidades intimistas do cinema, de “tornar sensível ao público os estados de alma sutís experimentados pelos personagens, sem que eles mesmos não tivessem consciência disso”. Assim, a cena final do filme ilustra perfeitamente esta idéia, traduzindo visualmente a tristeza de Lebéchut, sem exprimí-la diretamente: o cientista olha pelo seu microscópio, e a imagem que ele vê é embaçada. Ele enxuga as lentes, mas em vão: são seus olhos é que estão turvados pelas lágrimas.
Após o parêntese pessoal de La Maison Vide, Raymond Bernard retomou sua colaboração com o pai, fundando ao mesmo tempo uma companhia produtora a Societé des Films Tristan Bernard; porém precisou do apoio de uma firma como a Pathé Consortium, capaz de cofinanciar e de distribuir os filmes. Desse acordo surgiram dois curtas-metragens, L’Homme Inusable / 1922 e Décadence et Grandeur / 1922 (ambos com Armand Bernard) e dois longas-metragens, Tripeça / Triplepatte / 1922 e O Turuna da Zona / Le Costaud des Épinettes / 1922 (ambos com Henri Debain).
A carreira de Raymond Bernard sofreu uma mudança inesperada e espetacular quando, em maio de 1923, a Société des Films Historiques, fundada por dois escritores, Henry Dupuy-Mazuel e Jean-José Frappa, lhe propôs um projeto culturalmente ambicioso: produzir uma série de filmes que ilustrariam a História da França de Louis XI ao final de 1914. Não seriam documentários, mas filmes de ficção, nos quais uma intriga romanesca iria integrar personagens e fatos históricos. Um outro objetivo era de ordem econômica: realizar produções de prestígio capazes de atrair um público importante na França e de abrir o mercado mundial para o cinema francês.
Dos nove filmes realizados por Raymond Bernard no período silencioso do cinema francês, pude ver somente essas obras “históricas”, graças à magnífica caixa de dvds lançada recentemente pela Gaumont, que contém ainda um livreto e um documentário de 35 minutos, concebidos por Pierre Philippe e Agnès Bertola.
Henry Dupuy-Mazuel escreveu o romance, que forneceu o argumento do primeiro filme, O Milagre dos Lobos / Le Miracle des Loups / 1924. Desenrolando-se de 1461 a 1472, a história tem por pano de fundo o confronto entre Louis XI (Charles Dullin) e um de seus principais adversários, Charles le Téméraire (Jean-Émile Vanni-Marcoux), duque de Borgonha. O filme evoca alguns episódios marcantes desse combate: a batalha de Montlhéry, a entrevista de Péronne, onde Charles retém Louis XI como prisioneiro, o cerco de Beauvais cuja defesa, conduzida por Jeanne Hachette (Yvonne Sergyl), produz um duro golpe sobre Charles le Téméraire.
Esses episódios são ligados por uma intriga sentimental, que mostra Jeanne Fouquet , futura Jeanne Hachette (transformada, por exigência do argumento, em afilhada de Louis XI) apaixonada por Robert Cottereau (Romuald Joubé), soldado do exército de Charles le Téméraire, sendo ao mesmo tempo cobiçada pelo malvado Comte de Lau (Gaston Modot), outro homem do círculo do Téméraire – peripécias criadas pela imaginação de Dupuy-Mazuel, embora esses personagens tivessem realmente existido.
Na cena que dá título ao romance, Jeanne, encarregada de transmitir uma carta da qual depende a vida do rei, é perseguida pelo Comte de Lau e seus homens através de paisagens cobertas de neve, onde cai no meio de uma matilha de lobos. Milagre: as feras deitam-se ao seu redor, lambem suas mãos, antes de atacarem os perseguidores. Este episódio sobrenatural é o momento mais emocionante do filme e evoca, como disse o crítico Charles Dennery por ocasião da estréia do filme, “aquelas imagens de piedade nas quais a fé inscreve suas lendas maravilhosas”.
Outro trecho admirável é o cerco de Beauvais. Como as muralhas da cidade não existiam mais, a produção pediu permissão às autoridades para usar a Cidade de Carcassone. Com a palavra o diretor: “Eu utilizava cada dia entre mil e quatro mil figurantes, aos quais vinham se integrar unidades de tropas dos quartéis da região. A operação mais difícil era sincronizar os movimentos das massas, o que eu consegui por meio de sinais óticos e de uma linha telefônica. Disseram-me que os efeitos obtidos eram algumas vezes surpreendentes. Minha mãe, que assistiu dois dias de filmagens, escreveu para meu pai Tristan: “Raymond é o Foch (General) de Carcassone!”. Nesta sequência esplêndida, Raymond Bernard reencontra o sopro épico de D. W. Griffith e também a sua lição, segundo a qual se deve humanizar um filme de grande escala pelo cuidado dedicado aos detalhes, aos gestos, aos momentos íntimos.
Na batalha de Montlhéry, onde a câmera participa do estrépito das armas, dos movimentos de multidão, da confusão de corpos, sente-se a influência de dois outros grandes cineastas: Gance e Eisenstein. Em uma montagem paralela, vemos planos que desenvolvem a utilização, já explorada no curso do filme (vg. a corôa que cai no chão entre os dois e que se quebrou durante a queda, o jogo de xadrez que vai materializar o poder e a ambição do rei), de objetos como símbolos do confronto entre Charles e Louis.
Durante toda a cena da festa organizada por Charles le Téméraire, englobando a representação de “Le Jeu d’Adam”, um “mistério” medieval baseado na história de Adão e Eva (cujos décors foram concebidos por Robert Mallet-Stevens, o arquiteto mítico dos anos 20) a simultaneidade das ações enriquece a trama e a torna mais complexa. As imagens do “Jeu d’Adam” e os regozijos, filmados de diversos pontos de vista, se misturam e correspondem às imagens ilustrando as relações entre os principais protagonistas, todos reunidos naquele lugar (Louis, Charles, Jeanne, Robert, du Lau). A vida real, o espetáculo, a festa parecem se fundir em um único movimento: o público que assiste a representação se volta para aclamar Louis como se ele fosse um dos atores.
No papel de Louis XI, Charles Dullin, uma das maiores figuras do teatro francês entre 1920 e 1950 exprime com perfeição os mais variados sentimentos: astúcia, cólera, bondade, delicadeza e às vezes o ódio, revelando-se também como um grande ator de cinema. A economia e a lentidão de seus gestos e seus olhares significativos tornam seu Louis XI inesquecível.
Extraído, como O Milagre dos Lobos, de um romance de Henry Dupuy-Mazuel, o argumento de O Jogador de Xadrez / Le Joueur d’Échecs / 1926 retoma um certo número de ingredientes que haviam feito o sucesso de seu predecessor, transpostos desta vêz para a Polonia – a promessa inicial de se limitar à História da França tendo sido rapidamente esquecida. No ambiente da Polonia de 1776 (cujo território, após 1772, foi repartido entre a Rússia, a Austria e a Prússia), tendo como cenário a luta contra a Rússia de Catarina II, desenvolve-se uma história amplamente romanceada, onde se encontra uma heroína simbolizando a unidade nacional e a luta pela independência, um amor contrariado pela guerra, cenas espetaculares de batalha, assim como um toque de irrealidade.
Mais uma vêz, Dupuy-Mazuel integra ao seu romance figuras autênticas: Catarina II (Marcelle Charles Dullin), naturalmente, mas também o barão húngaro Wolfgang de Kempelen (Charles Dullin), apaixonado por invenções, o qual construiu um autômato jogador de xadrez, suscitando a curiosidade de seus contemporâneos – entre eles justamente Catarina II. A habilidade do funcionamento desse autômato era tal que deu origem a uma lenda segundo a qual Kempelen teria dissimulado no seu interior um oficial polonês, cujas pernas haviam sido amputadas, permitindo-lhe assim sair da Rússia, onde ele estava condenado por delitos políticos. É nesta versão que se inspirou o argumento, fazendo do oficial polonês um filho adotivo de Kempelen, Boleslas Vorowski (Pierre Blanchar). A heroína do filme, Sophie Worowska (Édith Jehanne), igualmente educada por Kempelen, é objeto de uma rivalidade entre Boleslas e um oficial russo, Serge Oblomoff (Pierre Batcheff).
Após O Milagre dos Lobos, Raymond Bernard confirma com O Jogador de Xadrez sua capacidade de administrar uma superprodução, à qual não faltou nem o esplendor da encenação nem a delicadeza dos detalhes. Tal como no jogo de xadrez, no qual cada peça tem a sua duplicata de outra cor, a estrutura do filme, a construção das numerosas cenas, a concepção dos personagens são baseadas na dualidade, no paralelismo – por exemplo, Boleslas tem seu duplo e seu oposto em Serge, ao qual se liga por uma amizade fraterna, mas também por uma rivalidade amorosa (ambos são apaixonados por Sophie) e uma oposição política (o primeiro está no campo polonês, o segundo, do lado russo, após a divisão do exército russo-polonês).
A cena antológica da morte do major Nicolaieff (Camile Bert), cercado pelos soldados autômatos de Kempelen, fascina pela construção magistral e pela vertigem fantástica que ela introduz no tema do duplo e do falso: enquanto os soldados de verdade fuzilam um ser mecânico (o jogador de xadrez) sem saber que estão matando o seu próprio criador escondido no interior da máquina, os manequins, de aparência espantosamente humana, adquirem uma vida inesperada e matam o major. Esta cena é visualmente fascinante pela aparência espantosamente humana dos “soldados” em contraposição à estilização e sincronização de seus movimentos.
A história de Tarakanowa / Tarakanowa / 1929 (produzido pela Franco Film Aubert e não pela Société des Films Historiques, produtora dos dois filmes precedentes de Raymond Bernard)também tem sua origem em um episódio do reino de Catarina II: uma jovem, fazendo-se passar pela filha da imperatriz Elisabeth Petrowna (filha mais velha de Pedro, o Grande), pretende tomar o trono de Catarina. Esta encarrega seu amante, o Conde Orlof, de prender a dita princesa, que morre na prisão em 1775, sem que tenha sido descoberta a sua identidade exata – entretanto, parece que se tratava de uma aventureira alemã.
O argumento do filme foi longinquamente baseado nos fatos. Nele encontramos a princesa Dosithée (Édith Jehanne), filha natural de Elisabeth Petrowna em um convento, onde ela recusa toda tentativa do Conde Chouvalov (Rudolf Klein-Rogge), antigo confidente de Elisabeth, de fazê-la ascender ao trono. Chouvalov descobre uma cigana, Tarakanowa (Édith Jehanne), sósia da princesa e, a fim de realizar suas próprias ambições, a convence de que ela é a herdeira da côroa. Catarina encarrega Orlof (Olaf Fjord) de prender Tarakanowa, que é conduzida à prisão e torturada. Mas Orlof se apaixona pela jovem cigana, auxilia sua fuga e a confia a Chouvalov, para cuidar dela e escondê-la. Este a conduz ao convento de Dosithée e lhe revela a sua impostura. As forças de Tarakanowa diminuem e, enquanto Orlof, caído em desgraça mas livre vai se reunir a ela, é muito tarde: ela morre.
Sem possuir a força dos melhores momentos de O Milagre dos Lobos e O Jogador de Xadrez, Tarakanowa encerra com muita beleza a trilogia “histórica” e a carreira de Raymond Bernard no cinema mudo. Reencontra-se neste espetáculo as qualidades estéticas dos seus dois filmes precedentes. As sequências mais espantosas são as da batalha entre os homens de Orlof e os guerreiros turcos, na qual a câmera, como se estivesse febril, mergulha no meio do confronto, misturando os corpos e as armas até à abstração e a da chegada de Tarakanowa à côrte de Catarina, com a câmera ainda tremulenta, mostrando em montagem rápida as embarcações, a multidão, a bandeira imperial, os tiros de canhão e os sinos saudando-a, até ela ser presa a bordo de um veleiro.
Nota-se sobretudo o gôsto do diretor por uma composição bastante elaborada e voluntariamente anti-natural nos enquadramentos, pelo uso do claro-escuro (vg. os planos da capela e do claustro do convento para onde se retirou Dosithée) e pelos movimentos de câmera (vg. o longo traveling por cima de uma mesa carregada de iguarias, até a poltrona do Conde Orlof).
Observa-se, ao longo do filme uma certa fascinação do cineasta pelo rosto da atriz Édith Jehanne, frequentemente enquadrada em primeiro plano, colocado como um preâmbulo dos créditos no seu papel duplo, exprimindo um sentimento de êxtase após receber o seu primeiro beijo de Orlof, mostrado sem maquilagem por ocasião do processo e da sessão de tortura. A interpretação de Édith Jeahnne suscitou uma admiração praticamente unânime entre os críticos, sendo que a maior parte dos jornalistas a compararam com Greta Garbo ou Lillian Gish.
Em agosto de 1929, Raymond Bernard toma uma decisão determinante para a sua carreira: ele assina um contrato com Bernard Natan, da Pathé-Natan, uma associação que vai lhe proporcionar melhores condições materiais (técnicas e financeiras) e uma confiança que vão, indiscutivelmente, contribuir para o sucesso enorme de dois dos quatro filmes que ele realizou para a Pathé-Natan entre 1930 e 1934: Cruzes de Madeira / Les Croix des Bois e Os Miseráveis / Les Misérables, títulos que continuam sendo considerados entre os mais importantes do cinema francês do início dos anos trinta.