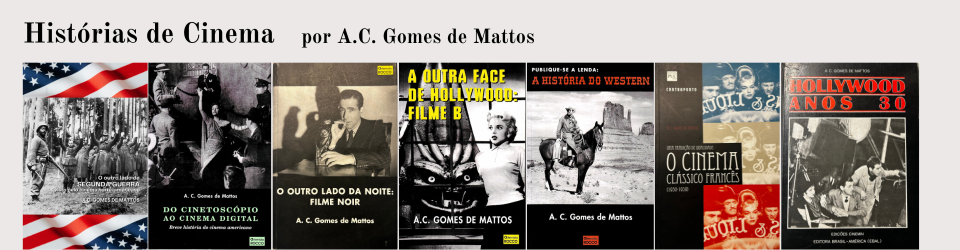Embora não tivesse sido um sucesso comercial como os filmes de Lubitsch (Madame du Barry / Madame du Barry) ou de Murnau (A Última Gargalhada / Der Letze Mann), exibidos respectivamente nos Estados Unidos como Passion e The Last Laugh, o filme de Victor Sjöström, A Carroça Fantasma / Körkarlen (The Phantom Chariot ou Stroke at Midnight ou Thy Soul Shall Bear Witness nos EUA) / 1920, por suas qualidades artísticas, atraiu a atenção de June Mathis, roteirista e montadora da Goldwyn Company. Mathis propôs que o diretor fosse convidado para trabalhar na América em vez da companhia assumir riscos, distribuindo filmes suecos, que ela considerava difícil de conquistar o público americano. Após semanas de vacilação, Sjöström aceitou o convite, e partiu em 10 de janeiro de 1923 para Nova York, onde foi recebido como uma celebridade, graças a uma campanha de publicidade astuta organizada por seus empregadores. Entre 1923 e 1930 ele dirigiu filmes em Hollywood sob o nome de Victor Seastrom.
Viktor David Sjöström, nasceu no dia 20 de setembro de 1879, na província sueca de Värmland. Quando ele tinha seis anos de idade, seu pai, Olof Adolf Sjöström, emigrou para a América e sua mãe (cujo nome de solteira era Sofia Elizabeth Hartman), ex-atriz de um teatro regional, o acompanhou, juntamente com Victor e a irmã, em 1880. Depois que Sofia morreu, em 1886, Olof casou-se com uma mulher bem mais moça, que havia sido babá da família. O relacionamento tenso entre Victor e essa mulher e o crescente autoritarismo religioso do pai, fizeram com que ele voltasse para a Suécia em 1893, a fim de viver com uma tia em Upsala. Enquanto estava no colégio, Sjöstrom se interessou primeiramente pelo circo e depois pelo teatro, fazendo parte de grupos amadores. Quando Olof retornou à Suécia em 1895, Sjöström foi morar com ele e a madrasta em Estocolmo, mas teve que sair da escola para ajudar seu progenitor, então com dificuldades financeiras. Depois da morte do pai, Sjöström sentiu-se livre para perseguir suas ambições teatrais num nível mais profissional e, em 1896, entrou para uma trupe itinerante. Nos próximos dezesseis anos, ele trabalhou como ator e diretor em várias companhias e, em 1911, formou sua própria companhia juntamente com Einar Fröberg.
Em 1913, Sjöström ingressou na Svenska Biograftheatern (depois conhecida como Svenska Filmindustri), cujo gerente de produção era Charles Magnusson, responsável, juntamente como o fotógrafo Julius Jaenzon, pela ênfase dada à qualidade artística, nos filmes que Sjöström fêz.
No início de sua carreira cinematográfica, Sjöström trabalhou como ator, tanto nos seus próprios filmes quanto nos de Mauritz Stiller em particular. Muitos de seus filmes estão hoje perdidos mas alguns, restaurados pelo Svenska Filminstitutet, ainda podem ser vistos em Retrospectivas ou Mostras Internacionais de Cinema. Felizmente, aqueles nos quais ele começou a firmar sua reputação na Europa, tais como Ingeborg Helm / 1913 (título idêntico nos EUA), Terje Vigen / 1917 (A Man There Was nos EUA) e Berg-Ejvind och hans Hustru / 1918 (The Outlaw and his Wife nos EUA), ainda subsistem e estão disponíveis em dvds da Kino Entertainment.
Ingeborg Helm descreve as atribulações de uma jovem quando seu marido, que havia pedido dinheiro emprestado para abrir uma loja, morre subitamente e ela tem que lidar com os credores. Apesar de seus esforços, Ingeborg (Hilda Borgström) não consegue escapar da falência, da pobreza e, finalmente, do asilo de pobres, onde lhe oferecem um serviço de limpeza. Ela tem que vender a loja, sua casa, e pôr os três filhos num orfanato. Após certo tempo, Ingeborg fica sabendo que um de seus filhos está seriamente doente. Ela pede permissão para visitá-lo, mas o pedido é negado. Ingeborg foge do asilo e, quando encontra o menino, ele está morrendo. Mais tarde, ela fica louca, ao perceber que sua filha não mais a reconhece e corre para os braços da mãe adotiva. Ingeborg passa muitos meses num sanatório, apertando contra seu peito uma boneca como se fosse a filha. Doze anos depois, seu filho mais velho, Erik (Aron Lindgren), agora um marujo, vai visitá-la, e ela recobra a sanidade.
Este drama social, extraído da peça de Nils Krok e anunciado como “uma tragédia moderna em quatro atos”, foi um grande sucesso popular na Suécia e, embora não tivesse causado nenhum impacto na América, granjeou para Sjöström um reconhecimento considerável na Europa. Os críticos na época louvaram especialmente o tratamento realista do enredo, o comedimento na interpretação de Hilda Borgström, e a fotografia e iluminação imaginativas. O filme tem mais cenários urbanos do que “naturais” mas as cenas em exteriores mostram belas paisagens.
 Terje Vigen, baseado num poema narrativo de Henrik Ibsen passado no tempo das Guerras Napoleônicas, é dividido em duas partes. Na primeira, contada parcialmente em retrospecto, o jovem Terje (Victor Sjöström) tenta fugir do bloqueio da costa da Noruega pela Marinha Britânica, a fim de obter comida para sua família. Ele é descoberto e, apesar de sua súplicas, o capitão inglês manda afundar o seu barco com os suprimentos que levava. Terje é enviado para a prisão e fica sabendo, após sua libertação, que sua família morrera de fome. A segunda parte, mostra Terje levando uma existência amarga e solitária, até que um dia ele vai ajudar a salvar um navio em perigo durante uma tempestade; seu capitão é o mesmo oficial que fora responsável por seu infortúnio. Por vingança, Terje, a princípio pensa em matar o capitão e toda sua família; porém desiste da idéia, ao ver a filha pequenina do casal, e salva a vida deles.
Terje Vigen, baseado num poema narrativo de Henrik Ibsen passado no tempo das Guerras Napoleônicas, é dividido em duas partes. Na primeira, contada parcialmente em retrospecto, o jovem Terje (Victor Sjöström) tenta fugir do bloqueio da costa da Noruega pela Marinha Britânica, a fim de obter comida para sua família. Ele é descoberto e, apesar de sua súplicas, o capitão inglês manda afundar o seu barco com os suprimentos que levava. Terje é enviado para a prisão e fica sabendo, após sua libertação, que sua família morrera de fome. A segunda parte, mostra Terje levando uma existência amarga e solitária, até que um dia ele vai ajudar a salvar um navio em perigo durante uma tempestade; seu capitão é o mesmo oficial que fora responsável por seu infortúnio. Por vingança, Terje, a princípio pensa em matar o capitão e toda sua família; porém desiste da idéia, ao ver a filha pequenina do casal, e salva a vida deles.
O filme foi o maior êxito do cinema sueco no mercado externo e inaugurou o grande período da cinematografia daquele país, no qual o aspecto visual dos espetáculos, e notadamente o uso da paisagem, atraíram a atenção de todo o mundo. A maior parte da narrativa transcorre ao ar livre com cenas espetaculares de seres humanos lutando contra as forças elementares da natureza; em algumas delas, como na da tempestade no final, Sjöström coloca sua câmera não somente a bordo do navio ameaçado mas ainda no pequeno barco de Terje, quando ele parte para o resgate. Sjöström fez com que a natureza se tornasse parte do drama.
Berg-Ejvind och hans Hustru, cujo argumento origina-se de uma peça islandêsa, também é dividido em duas partes. Um homem que diz chamar-se Kári (Victor Sjoström), obtém emprego na fazenda de uma viúva rica, Halla (Edith Erastoff). Os dois acabam se apaixonando. Mas um dia, na igreja, alguém revela a verdadeira identidade de Kári: ele é Ejvind, um fugitivo da justiça, sentenciado a dez anos de cadeia, por ter roubado uma ovelha. Ejvind tem que fugir para as montanhas e Halla decide acompanha-lo. Lá eles vivem muito tempo felizes com sua filhinha, alimentando-se da caça e da pesca, até que aparece um ex-empregado da fazenda, Arnes (John Ekman), agora também um fora-da-lei, que se apaixona por Halla, ocorrendo posteriormente incidentes trágicos.
Neste drama psicológico, Sjöström oferece uma mistura curiosa de algumas cenas de inverno obviamente encenadas e artificiais, juntamente com tomadas de montanhas, rios, lagos, florestas e cachoeiras – maravilhosamente fotografadas por Julius Jaenzon – que não somente enfatizam vigorosamente o esplendor do local como agem sobre os personagens, tal como uma pessoa o faria.
As caracterizações em si não são particularmente sutís. Ejvind é um herói na tradição romântica: ele roubou um ovelha para dar de comer a uns camponeses famintos depois que o pastor local se recusou a lhes dar qualquer ajuda. Halla é a esposa leal que participa das agruras da vida do companheiro, sem se queixar e, nas cenas finais, prefere matar sua filhinha, para que ela não seja capturada, e morrer ao lado dele, ambos congelados na neve.
Posteriormente, Sjöström conquistou mais sucesso internacional com uma série de adaptações dos romances de Selma Lagerlöf e de Hjalmar Bergman. Dos filmes baseados em obras de Selma Lagerlöf, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 1909, o mais famoso foi A Carroça Fantasma, que vimos numa cópia em dvd da Criterion (com o brinde de uma montagem feita pela Metro com o título de Stroke at Midnight). Dos filmes baseados em obras de Hajlmar Bergman, destaca-se Vem Dömer / 1921 (Love’s Crucible nos EUA), do qual conhecemos apenas o trecho final, reproduzido no documentário Victor Sjöström, dirigido por Gosta Werner em 1981 e incluido num dos dvds da Kino.
A Carroça Fantasma marca o apogeu da colaboração de Sjöström com o fotógrafo Julius Jaenzon, fazendo uso extensivo de duplas exposições, de uma estrutura narrativa e flashbacks complexos, e efeitos de iluminação, que foram muito inovativos na época e continuam sendo extraordinários nos dias de hoje.
Na véspera do Ano Novo, a irmã Edit (Astrid Holm), do Exército da Salvação, pede para ver David Holm (Victor Sjöström) no seu leito de morte. Enquanto isso, David, um alcoólatra, está contando uma lenda para dois outros bêbados no cemitério. De acordo com a lenda, o último pecador a morrer na virada do ano, terá que conduzir a Carroça da Morte, que coleta as almas dos mortos no próximo ano. Quando David se recusa a ver Edit, seus amigos discutem com ele, brigam, e David morre acidentalmente, pouco antes do relógio bater meia-noite. Quando o cocheiro chega, David reconhece seu amigo Georges (Tore Svennberg), que morrera no final do ano anterior. Georges diz a David que ele deverá ser o próximo cocheiro e lhe mostra em retrospectiva: como sua mulher Anna (Hilda Borgström) o deixou, depois que ele foi preso por intoxicação; como ele foi tratado por Edit e prometeu encontrar-se com ela no ano seguinte, a fim de que ela verificasse se suas preces por ele haviam sido atendidas; como seu amigo Gustafsson (Tor Wiejden) submeteu-se a Deus numa reunião no Exército de Salvação mas David permaneceu numa atitude cínica; como Edit tentou em vão conciliar David e Anna. Georges leva David ao quarto de Edit, e esta, percebendo o seu arrependimento, morre em paz. Georges leva então David à presença de Anna, que está pensando em matar a si própria e às crianças. David implora a Georges e a Deus para interferir. George permite que David retorne à vida. David e Anna abraçam-se e choram.
Nesta história fantasmagórico-moralista Dickensniana, Sjöström evoca o mundo dos espíritos através da fotografia, misturando realidade e fantasia com muita habilidade e obtendo um lirismo até então desconhecido na tela. O filme dá um passo além de Intolerância / Intolerance /1916, que já havia entrecortado livremente entre quatro centros diferentes de interesse, amplamente separados no espaço e no tempo. A Carroça Fantasma move-se para a frente e para trás entre cinco fios narrativos, três dos quais no presente e dois no passado, incluindo ainda uma sequência puramente imaginária, na qual David Holm conta a lenda no cemitério.
Ingmar Bergman declarou numa entrevista: “Minha relação com A Carroça Fantasma é muito especial. Eu tinha quinze anos de idade quando o ví pela primeira vez (…) Lembro-me dele como uma das maiores experiências artísticas e emocionais da minha vida”.
Em Vem Dömer, no final da Idade Média, Ursula (Jenny Hasselqvist) é acusada de ter envenenado seu marido. Embora ela não fosse tecnicamente culpada, porque na verdade ele morrera de um ataque do coração, ao saber que sua esposa tentara envenenná-lo, Ursula aceita a responsabilidade moral pela sua infidelidade sexual e pela intenção de matar seu cônjuge. Assim, ela concorda em se submeter ao julgamento do fogo. As imagens finais sugerem a sua morte física e também sua redenção espiritual. Ela vê seu marido pregado na cruz no lugar do Cristo e ele desce e a conduz através das chamas, para se ajoelhar numa prece ao pé do crucifixo ao lado do seu amante.
Este melodrama febril passado na Florença do Renascimento foi muito elogiado, principalmente pela criatividade visual demonstrada pelo diretor na combinação sucessiva de imagens, envolvendo Ursula, seu marido, e Jesus Cristo. A beleza visual do filme é inegável, não somente pelos figurinos e cenários suntuosos e pelo manejo das cenas de multidão mas também no que se refere ao uso da luz e da sombra, especialmente nos útimos momentos do espetáculo.
O cineasta francês René Clair descreveu assim a interpretação de Jenny Hasselqvist: “Nunca esqueceremos seus olhos flamejantes, a severidade de seu espírito, suas expressões abruptas e alarmadas, como um animal ameaçado”. O comentarista do Monthly Film Bulletin exclamou: “Sjöström cria uma textura visual barroca que bem pode ter servido de modelo para Von Sternberg”.
Assim como Lubitsch e Murnau, Sjoström obteve cláusulas inusitadamente favoráveis no seu primeiro contrato com uma firma americana: possibilidade de aprovação do script, escolha inicial do elenco, seleção do fotógrafo e do assistente de direção, e o direito de supervisionar a montagem. Entretanto, enquanto Murnau trouxe a sua própria equipe de produção e Lubitsch pôde usar Hans Kraly como seu roteirista, Sjöström teve que trabalhar sem pessoas familiares em volta dele. Entendimentos para trazer Julius Jaenzon resultaram em nada e, embora Hjalmar Bergman se juntasse a Sjoström durante alguns meses no começo de 1924, a experiência não foi boa.
O primeiro filme de Sjöström na América, Juiz e Réu / Name the Man / 1924 é praticamente considerado um filme perdido. Dos outros oito filmes realizados por Sjoström em Hollywood: Ironia da Vida ou A Vingança do Palhaço / He Who Gets Slapped / 1924, Confissões de uma Rainha / Confessions of a Queen / 1925, Castelos de Ilusões / The Tower of Lies / 1925, A Letra Escarlate / The Scarlet Letter / 1926, A Mulher Divina / The Divine Woman / 1928, Máscaras da Alma / Masks of the Devil / 1928, Vento e Areia / The Wind / 1928 e Mulher Ideal / A Lady to Love / 1930, apenas três subsistem: Ironia da Sorte, A Letra Escarlate e Vento e Areia, que ví em cópias extraídas do canal TCM francês e americano .
Em Ironia da Vida, baseado numa peça de Leonid Andreev, Paul Belmont (Lon Chaney) é um cientista que trabalhou anos arduamente para provar suas teorias radicais sobre a origem da humanidade. Um dia, Beaumont anuncia à sua querida esposa, Marie (Ruth King) e ao seu patrono, Barão Regnard (Marc McDermott), que está pronto para apresentá-las na Academia de Ciências. Entretanto, quando Paul vai dormir, Marie rouba a chave do cofre que contém seus documentos e os entrega para Regnard. No dia marcado para a apresentação na Academia, Regnard assume a autoria do trabalho de Paul. Este confronta-o na frente dos acadêmicos mas o barão diz que Paul é seu mero assistente e lhe dá uma bofetada. Essa humilhação provoca o riso de todo o auditório. Mais tarde, Paul procura o apoio de sua mulher, porém ela admite impudentemente que é amante do barão e o chama de “tolo” e “palhaço. Passam-se cinco anos e Paul é agora um palhaço que se chama “He-who gets slapped”, constituindo-se na atração máxima de um circo perto de Paris. Seu número consiste nele sendo esbofeteado todas as noites pelos outros palhaços. Outro artista do circo é Bezano (John Gilbert), um cavaleiro-equilibrista. Consuelo (Norma Shearer), filha do empobrecido Conde Mancini (Tully Marshall), candidata-se para integrar o número de Bezano. Este apaixona-se por Consuelo, assim como Paul. Uma noite, Regnard aparece no circo e corteja Consuelo. Num passeio romântico no campo, Bezano e Consuelo declaram seu amor um pelo outro. Paul também se declara a Consuelo porém esta pensa que ele está brincando, e rindo, o esbofeteia. Eles são interrompidos por Regnard e Mancini, que informa Consuelo que ela vai se casar com o barão após o espetáculo daquela noite. Paul revela sua identidade para Regnard e Mancini fere Paul com sua bengala pontiaguda. Regnard e Mancini tentam ir embora mas são mortos por um leão, que havia sido solto por Paul. Este vai até o palco e desmaia. Antes de morrer, ele diz para Consuelo que está feliz e que ela será feliz.
Durante todo o tempo, Paul insiste em expressar sua degradação pessoal e profissional com um grau impressionante de masoquismo e auto-piedade. Toda a estrutura do filme repousa numa série de incessantes humilhações simbólicas e reais, tanto no nível particular como no público, praticadas contra um personagem que não faz nenhum gesto de reação contra elas e parece mesmo incitar ainda mais perseguição, na medida em que a narrativa prossegue (até ao leão, no final, ele implora que lhe dê a última bofetada).
 Como símbolo de seu amor desesperado por Consuelo, Paul guarda um coração menor escondido debaixo do coração de pano que ela costura na sua fantasia antes de cada performance. Quando Paul morre nos braços de Consuelo, um close-up revela sua mão estendida apertando o ”coração” menor manchado de sangue. É uma imagem poética comovente, que a gente não esquece.
Como símbolo de seu amor desesperado por Consuelo, Paul guarda um coração menor escondido debaixo do coração de pano que ela costura na sua fantasia antes de cada performance. Quando Paul morre nos braços de Consuelo, um close-up revela sua mão estendida apertando o ”coração” menor manchado de sangue. É uma imagem poética comovente, que a gente não esquece.
Porém a melhor cena do filme é o próprio número de Paul no circo. Cercado por 60 palhaços e pelo dono do circo, Tricaud (Ford Serling), ele começa o espetáculo recebendo as bofetadas dos seus companheiros e confunde as gargalhadas dos espectadores com as gargalhadas dos acadêmicos naquela sessão da Academia de Ciências. De repente, Paul avista Regnard na platéia, enquadradado em máscara pela câmera. Paul quer falar alguma coisa, gritar contra o maldito traidor, porém os palhaços não deixam, esbofeteando-o, amordaçando-o, amarrando seus braços e depois levando-o para fora do picadeiro. Tricaud traz ele de volta e sucede-se o seu “enterro” num ritual desempenhado pelos palhaços.
Ironia da Sorte foi a primeira produção filmada na récem-formada Metro-Goldwyn-Mayer e impulsionou as carreiras de Lon Chaney, Norma Shearer e John Gilbert. Em breve, todos os três estariam entre os maiores astros de Hollywood.
No seu próximo filme, A Letra Escarlate, Sjöström abordou um tema e um cenário especificamente americanos mas relacionados com a sua obra sueca. O espetáculo tinha os elementos “Lagerlöf” de adultério, ilegitimidade, as pressões de uma opinião pública intolerante, culpa, punição, reparação e arrependimento – embora o diretor permanecesse fiel ao espírito do livro de Nathaniel Hawthorne, fazendo com que o par de adúlteros sofresse todas as consequências de suas ações .
 Para agradar seu pai, Hester (Lillian Gish), uma donzela de Boston, Nova Inglaterra, casa-se com Roger Prynne (Henry B. Walthall), sem amá-lo. Durante uma longa ausência do marido, ela passeia pela floresta na companhia de seu pastor, o Reverendo Arthur Dimmesdale (Lars Hanson), e eles logo se apaixonam. Quando nasce uma criança, Hester é condenada a usar sobre o peito uma letra A, a marca de adúltera, e se recusa a divulgar o nome do pai do récem-nascido. Com paciente resignação ela afronta a zombaria e os insultos da inflexível população puritana e luta para ficar com a filha. Hester é exposta no pelourinho e, quando é levada ao patíbulo, Dimmesdale, que já estava ansioso porém com medo de compartilhar com Hester a degradação pública, confessa seu pecado perante a multidão e morre de angústia nos braços dela.
Para agradar seu pai, Hester (Lillian Gish), uma donzela de Boston, Nova Inglaterra, casa-se com Roger Prynne (Henry B. Walthall), sem amá-lo. Durante uma longa ausência do marido, ela passeia pela floresta na companhia de seu pastor, o Reverendo Arthur Dimmesdale (Lars Hanson), e eles logo se apaixonam. Quando nasce uma criança, Hester é condenada a usar sobre o peito uma letra A, a marca de adúltera, e se recusa a divulgar o nome do pai do récem-nascido. Com paciente resignação ela afronta a zombaria e os insultos da inflexível população puritana e luta para ficar com a filha. Hester é exposta no pelourinho e, quando é levada ao patíbulo, Dimmesdale, que já estava ansioso porém com medo de compartilhar com Hester a degradação pública, confessa seu pecado perante a multidão e morre de angústia nos braços dela.
Sjöström assimila o assunto do livro e o apresenta através de imagens de uma força poética e de uma beleza inesquecíveis (vg. o canário de estimação de Hester cantando no Dia do Senhor e ela correndo atrás dele quando ele foge, escandalizando a população; Hester retirando a letra A do seu vestido, soltando seus cabelos e se oferecendo loucamente para Dimmesdale; Dimmesdale rasgando sua camisa para mostrar a letra A, marcada com ferro quente no seu peito), dando um sopro lírico ao melodrama dilacerante de Hawthorne, que é também uma denúncia da hipocrisia de uma sociedade, preocupada em manter um equilíbrio moral digno mas incapaz de perceber os verdadeiros caprichos dos membros que a constituem.
Foi Lillian Gish que escolheu Sjöström como diretor de Vento e Areia, preferindo ele do que o inicialmente indicado pelo estúdio: Clarence Brown. Sjöstrom insistiu em filmar os exteriores em locação no Deserto de Mohave e – surpreendentemente para uma companhia cujos executivos haviam sofrido durante a filmagem de Ouro e Maldição / Greed de Erich von Stroheim – obteve permissão para ir. As condições de filmagem eram quase que intoleráveis com temperaturas muito altas e nove hélices de avião para fazer o vento açoitando a areia, que se tornou a presença física dominante do filme; Lillian Gish mais tarde descreveria esta filmagem como “uma das minhas piores experiências na realização de filmes” e comparável aos tormentos das massas de gelo flutuante em Horizonte Sombrio ou Gente do Sertão / Way Down East de D.W. Griffith.
Letty (Lillian Gish), uma jovem de Virginia, vai para o Texas morar na companhia de seus primos Beverly (Edward Earle) e Cora (Dorothy Cummings). Eles vivem numa região onde o terrível vento do Norte é, segundo as crenças indígenas, um cavalo selvagem perdido nas nuvens (um símbolo usado por Sjöström tal como fizera com a carroça fantasma). Um negociante de gado, Wirt Roddy (Montagu Love), encontra Letty no trem e a corteja. Ele lhe diz que aquela região não foi feita para ela. Na estação ferroviária, dois homens aguardam Letty e a levam numa caleça para a casa dos primos. O primo recebe Letty calorosamente porém sua mulher não a vê com bons olhos. Durante um baile, Letty revê Roddy e ele reitera a Letty sua proposta de levá-la para terras mais acolhedoras. Os dois homens que foram buscar Letty na estação ferroviária propõem casamento a Letty. Os dois disputam-na num cara ou corôa. O mais jovem dos dois, Lige (Lars Hanson) ganha. Para sua surpresa Letty descobre que ele falava seriamente. Enciumada de Letty (pensando que esta quer lhe roubar o marido), Cora ameaça Letty de expulsá-la de casa, se ela não se casar. Letty sente-se mais atraída por Roddy, mas descobre que ele é casado e se casa com Lige. O tempo passa e Letty não se habitua com sua vida solitária numa cabana fustigada pelo vento e pela areia. Um dia, alguns homens trazem Roddy ferido para que ela cuide dele. Lige parte para recolher o gado. Assim que se restabelece, Roddy possui Letty à força. De manhã, Letty apanha um revólver e, quando Roddy tenta desarmá-la, ela o mata, e enterra o cadáver na areia. O marido retorna, e ela confessa seu crime, acrescentando que o ama verdadeiramente e que não tem mais medo do vento nem de qualquer outra coisa.
Numa narrativa fluente, densa, concisa, Sjöström opõe uma criatura frágil a um meio hostil e aos elementos da natureza constantemente enfurecidos. À medida em que a intriga prossegue, a energia e a mente de Letty vão se desintegrando, até ela chegar a um estado próximo da alucinação – a histeria atinge o auge quando Letty chega na janela e vê a areia encobrindo o cadáver de Roddy.
As cenas do casamento e da noite de núpcias são uma das mais brilhantes de todo o filme, combinando perfeitamente os dois motivos visuais e temáticos que enfatizam a contínua alienação de Letty, tanto do ambiente natural quanto do social. Um close-up do anel matrimonial sendo colocado no dedo de Letty funde-se com uma tomada do seu novo lar, a cabana de Lige desarrumada, com pilhas de pratos sujos. Lige arremessa o chapéu de casamento de Letty para um cabide. Ela solta os cabelos e tenta lavar os pratos mas a bacia está cheia de areia, que deve ser retirada primeiro; a areia também se infiltrou no leito nupcial, num presságio dos desastres que estão por vir. Numa outra fusão, vemos Letty andando de um lado para outro focalizada pela câmera em plano médio e Lige fora do quarto fazendo o mesmo. Mais uma fusão e vemos agora somente as pernas de Letty e Lige, indo e vindo, até que a câmera sobe e mostra Lige entrando no quarto e beijando Letty fervorosamente. Ela o repele com repugnância e diz: “Você me fez odiá-lo, Lige. Eu não queria odiá-lo”. Desorientado, ele responde: “Você se casou comigo para trabalhar comigo, para me amar” e, após uma pausa, diz: “Não tenha medo. Nunca mais vou tocar em você”.
O filme terminava originariamente com Letty errando pelo deserto, depois de ter cometido o crime; porém, para atender às sugestões dos exibidores, foi filmado o final que conhecemos. Mas, pelo menos, ele conservou uma audácia importante: o crime da heroína permaneceu impune.
Sjöström, voltou para a Suécia em 24 de abril de 1930 por motivos pessoais e profissionais. Ele estava com 52 anos e queria “dar a si mesmo um tempo para ser um ser humano”; além disso, o “círculo sueco” que ele frequentava em Hollywood, começara a se desfazer, quando Lars Hanson, Svend Gade e outros decidiram retornar para a sua terra natal. Sjöström estava também descontente com as crescentes restrições à liberdade criativa do diretor, que estavam sendo impostas pelos estúdios em consequência do advento do som.
Sjöström realizou mais dois filmes: Markurells i Wadköping / 1930 na Suécia e O Poder de Richelieu / Under the Red Robe / 1936 na Inglaterra. Depois disso, trabalhou somente como ator no cinema (notadamente como o professor Isak Borg em Morangos Silvestres / Smultronstället / 1957 de Ingmar Bergman e no teatro. Ele faleceu em 3 de janeiro de 1960, com a idade de 80 anos.