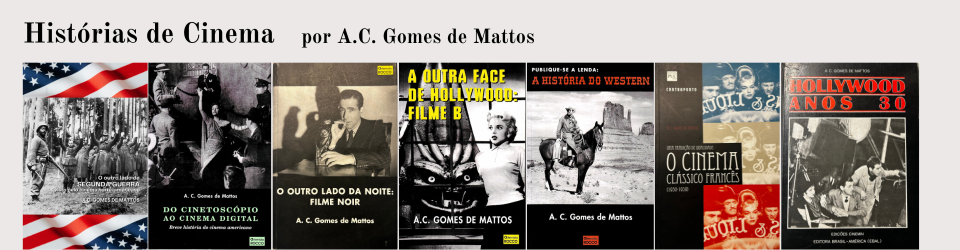Os industriais que organizaram o comércio de filmes achavam que estavam fabricando um produto e esperavam que o consumidor o procurasse pelo nome de sua marca. Não reconheciam a presença do ator no cinema. Por volta de 1910, ficou óbvio que os espectadores gostavam mais de certos atores e começaram a expressar suas preferências. Mesmo assim, a identidade dos atores continuou no anonimato, porque os produtores tinham receio de que o reconhecimento e o clamor público resultassem em um pedido de aumento de salário por parte de seus contratados. Por outro lado, certos atores esperavam que sua participação nos filmes não fosse notada, com medo de que os produtores teatrais lhes pagassem menos ou não lhes dessem mais emprego, ao saberem de sua atuação em um estúdio de cinema.
Foi sob a pressão dos espectadores que os produtores começaram a revelar o nome de seus intérpretes. Centenas de cartas pediam cotidianamente o nome da Biograpgh Girl (Florence Lawrence), da Vitagraph Girl (Florence Turner), da Little Mary (Mary Pickford) ou do Dimples (Maurice Costello, chamado de Dimples por causa de suas covinhas) e outros favoritos. Até que Carl Laemmle atraiu a atriz Florence Lawrence da Biograph para a sua companhia e colocou seu nome verdadeiro nos créditos do filme, nascendo assim a primeira estrela de cinema. Laemmle conduziu pessoalmente a campanha de publicidade de outra aquisição sua, Mary Pickford, que se tornaria a atriz mais popular do cinema mudo americano. Esta prática tomou conta de toda a industria pois, como se constatou, a presença de um astro reduzia os riscos de financiamento, garantindo um certo retorno do capital investido nos filmes.
Enquanto os estúdios disputavam entre si os astros, os atores e atrizes viram o valor de seus salários elevar-se à razão vertiginosa de cinco a quinze dólares por dia antes de 1910 para duzentos e cinquenta a dois mil dólares por semana em 1914. Em seguida, todos os produtores passaram a incorporar o sistema de astros (star system), fazendo vastas campanhas publicitárias para seus principais contratados e fornecendo fotografias deles para serem expostas nos saguões dos cinemas. Alguns exibidores vendiam cartões-postais com as fotos dos astros e estrelas para os espectadores; outros promoviam bailes com a presença dos artistas.
As revistas de fãs surgiram logo em seguida, criando colunas para responder à correspondência dos leitores, publicando artigos sobre a vida particular dos artistas, ilustrando com fotos o resumo da historia de seus próximos filmes, fornecendo notícias sobre os filmes em produção bem como resenhas dos lançamentos. Essas revistas, sempre enfatizando o glamour, eram dirigidas para as mulheres, que costumavam copiar os modelos de vestidos ou os penteados das atrizes mais famosas, achando que assim ficariam iguais a elas. As revistas estampavam fotos das estrelas ao lado de anúncios de sabonetes como Lux ou Palmolive ou outros produtos de higiene feminina e até junto de suas receitas de culinária.
O alcance das revistas de fãs se estendia para países de além-mar. Anthony Slide, no seu livro, Inside the Hollywood Fan Magazine (University Press of Mississipi, 2010), estupenda pesquisa e percuciente estudo sobre o assunto (de onde extraímos informações para o nosso artigo), lembra que, no seu esconderijo em Amsterdam durante a ocupação nazista da cidade, Anne Frank colava fotografias de Deanna Durbin e outras atrizes, recortadas das revistas de fãs na parede de seu quarto. A revista de fãs – comentou Slide – podia não ocultar a tragédia da vida real, mas poderia oferecer pelo menos um escudo temporário contra ela. Essas revistas eram tanto uma fuga da realidade como a própria Hollyywood.
Certamente havia colunas de mexericos nas páginas das antigas revistas de fãs, porém elas nunca se rebaixaram ao nível do jornalismo marron, como faria depois, por exemplo, a Confidential, um “jornal de escândalos” típico. Pode-se argumentar que a maioria das entrevistas publicadas nessas revistas não tinha substância, porém os redatores quase sempre providenciavam um comentário intelectual sobre os depoimentos dos astros, que geralmente versavam sobre futilidades..
Assim como toda a comunidade de Hollywood necessitava daquelas revistas como um porta-voz coletivo, as ditas revistas dependiam da indústria do cinema para a sua sobrevivência. Sem as fotos de publicidade e acesso aos astros e ao processo de filmagem as revistas de fãs não teriam nada para oferecer. Ao mesmo tempo, não demorou muito para que Hollywood percebesse que a revista de fãs era um valioso instrumento de publicidade.
Muitos redatores delas estavam também a serviço dos astros ou dos estúdios dos quais os astros eram empregados. Este relacionamento nunca foi revelado aos leitores mas, no meio da indústria cinematográfica, vários redatores eram identificados como publicistas e vice versa.
Essa relação era baseada na confiança e na necessidade mútua. Mesmo no auge dos primeiros escândalos de Hollywood dos anos 20 – os julgamentos de Roscoe “Fatty” Arbuckle, o assassinato nunca solucionado do diretor William Desmond Taylor e a morte por indução de drogas do galã Wallace Reid – as revistas de fãs publicaram comentários comedidos ao contrário das reportagens exageradas dos jornais diários.
Nos anos 30, as revistas de fãs poderiam muito bem ter sido suplantadas pelos jornais diários, que estavam oferecendo cada vez mais cobertura sobre Hollywood, porém os estúdios mantiveram-se fiéis aos seus velhos e confiáveis amigos. Todavia, nos meados daquela década, os produtores estavam exercendo um controle mais intenso sobre as revistas de fãs, obrigando-as a submeter suas histórias à aprovação do estúdio, antes de sua publicação. A MGM elaborou uma lista do que não podia ser mencionado, incluindo, por exemplo, a notícia de que Norma Shearer e Robert Montgomery ambos tinham filhos, revelação que poderia prejudicar suas imagens românticas. Como resultado desse controle cerrado, as revistas de fãs adquiriram uma tal mesmice, que ficava difícil para os leitores distinguirem uma da outra.
Alguns anos antes do lançamento da primeira revista de fãs, diversos periódicos dedicados especificamente ao comércio do cinema, disseminavam informações sobre os filmes e seus realizadores como Views and Film Index (depois Film Index), cujo primeiro exemplar surgiu em abril de 1906; The Moving Picture World, difundido a partir de março de 1907 e seu maior rival, Motion Picture Views, inicialmente publicado com o título de Moving Picture News em maio de 1908. O Variety, apelidado de “Bíblia do Show Business”, data de dezembro de 1905 e começou a resenhar os filmes de maneira regular em janeiro de 1907. Outros periódicos tais como The Billboard, The New York Clipper, The New York Dramatic Mirror e The New York Morning Telegram começaram uma cobertura regular da indústria cinematográfica mais ou menos na mesma época. Nenhuma dessas publicações dirigia-se ao consumo do público, circulando apenas no âmbito empresarial. Havia ainda jornais editados pelos próprios produtores, para serem lidos somente pelos exibidores. Durante certo tempo nos meados dos anos 10, um grande estúdio, a Universal, converteu o seu jornal de uso interno, The Universal Weekly, numa semi-revista de fãs, The Moving Picture Weekly.
A Época de Ouro das revistas de fãs abrange três décadas: os anos 20, 30 e 40, uma era na qual os americanos reconheciam o cinema como sua principal fonte de entretenimento e o interesse do público em geral por qualquer coisa relacionada com os filmes estava no auge.
A primeira revista de fãs foi a Motion Picture Story Magazine, fundada em 1911 por J. Stuart Blackton, em colaboração com Eugene V. Brewster, ex-aluno da Universidade de Princeton, que havia trabalhado na campanha presidencial de Grover Cleveland em 1892. Filho de operários inglêses que imigraram para a América, Blackton, havia fundado a Vitagraph Company of América, a produtora e distribuidora mais importante nos primeiros anos do cinema.
Em setembro de 1915, a Motion Picture Magazine (novo nome da revista desde 1914) introduziu uma publicação semelhante, Motion Picture Supplement. Ela era publicada no décimo quinto dia de cada mês enquanto a Motion Picture Magazine saía no dia primeiro. A partir de dezembro do mesmo ano, a Motion Picture Supplement foi reintitulada Motion Picture Classic, continuando a ser uma companheira da Motion Picture Magazine até agosto de 1931, quando seu nome mudou para Movie Classic.
Outra publicação do mesmo grupo foi a Shadowland: Expressing the Arts, que começou a ser impressa em setembro de 1919. Esta nova revista, mais cara do que as outras, abordava não somente assuntos sobre cinema, mas também sobre artes em geral e era muito sofisticada, dando ênfase à qualidade literária e mostrando fotos ousadas de “nús” artísticos. Anunciada como “A Revista Mais Formosa do Mundo”, não seria exagêro identificar suas capas como obras de arte. Entre seus colaboradores estavam o romancista Louis Bromfield, Willard Huntington Wright (depois conhecido como S.S.Van Dine), e Frank Harris. Albert Vargas contribuiu com um poster e Anna Pavlova escreveu um artigo sobre dança, “The Dance”, em janeiro de 1921. Em novembro de 1923 Shadowland se fundiu com a Motion Picture Classic. O derradeiro número incluía crítica literária, ficção, poesia, e ensaios sobre arquitetura, drama , música, pintura, artes e ofícios e fotografia.
Em 1919, a Motion Picture Magazine e a Motion Picture Classic organizaram juntas os concursos Fame and Fortune que produziram duas grandes estrelas: Mary Astor e Clara Bow. Nos anos 30, faziam parte do júri, entre outros, Mary Pickford, Thomas H. Ince, Cecil B. DeMille e Maurice Tourneur.
A princípio, a Motion Picture Magazine dedicava-se a publicar histórias adaptadas dos filmes de um e dois rolos em cartaz. A partir de julho de 1916 sob o cabeçalho de “Photoplay Review”, a revista começou a fazer resenhas dos filmes em exibição. Na coluna mais popular, “The Answer Man”, as perguntas dos espectadores eram respondidas por um indivíduo com um conhecimento enciclopédico do assunto, no caso, uma mulher chamada Elizabeth M. Heinemann. Para provar aos anunciantes e aos produtores o poder e a circulação da revista, a Motion Picture Magazine inaugurou uma série de concursos de popularidade nos quais os leitores eram estimulados a votar no seu intérprete favorito.
Houve outras revistas de fãs na época como, por exemplo, a Picture-Play Weekly, porém a maior concorrente da Motion Picture Magazine foi a Photoplay, que começou a sair em agosto de 1911 e cujo crescimento e fama foi fruto em grande parte à orientação editorial de James R. Quirk.
O nome de Quirk (que nos anos 10 era mencionado apenas como vice-presidente e gerente comercial da empresa), surge como editor no número de janeiro de 1920. Quirk exerceu um poder considerável, usando seus editoriais mensais para lutar contra a censura, pedir o apoio do público para o que ele determinava serem “bons filmes” e louvar ou denegrir os líderes da indústria. Ele era tão importante no meio da indústria quanto Will Hays foi na formação da Motion Picture Producers and Distributors of América (MPPDA) e na posterior efetivação do Código de Produção. A missão de Hays não era apenas limpar a indústria ocinema, mas também enfrentar a ameaça de censura federal e a Photoplay defendia um ponto de vista parecido.
Se existe uma coisa nos anos 20 que se destaca em termos de legado de Quirk é o seu patrocínio de uma série sobre a História do Cinema, “The Romantic History of the Motion Picture” de Terry Ramsaye, publicada em 36 partes de 1922 a 1925. Sob a forma de livro como A Million and One Nights, esta é a primeira história clássica do cinema, que até hoje serve de guia para os estudiosos da 7ª Arte.
Uma das colunas principais da Photoplay era “The Shadow Stage”, na qual Julian Johnson (que foi editor da revista até 1919) estabelecera um padrão de crítica de cinema até então desconhecido pelas revistas de fãs. Seus comentários eram sérios, inteligentes e sem preconceitos. Nos anos 20, a página do editorial intitulava-se “Speaking of Pictures” e abordava uma variedade de assuntos. No final da década de vinte, a coluna editorial passou a se chamar “Close-Ups and Long-Shots”, com o hífen desaparecendo sem explicação nos anos 30.
Inovação importante foi a introdução da Photoplay Medal of Honour (depois conhecida como Photoplay Gold Medal), outorgada anualmente ao produtor do melhor filme do ano. Os leitores é que escolhiam o vencedor, votando por via postal e o primeiro ganhador do prêmio foi Adoração de Mãe / Humoresque, produzido por William Randolph Hearst e dirigido por Frank Borzage.
A mulher mais famosa associada a Photoplay, onde ela ingressou em 1919, chamava-se Adela Rogers St. Johns, embora seja um erro classificá-la simplesmente como uma articulista de revista de fãs. Adela era uma estrela tal como aquelas cuja vida e carreira ela cobria e, por sua suposta intimidade com as mesmas, foi apelidada de “Mother Confessor of Hollywood”. Seu patrão na Photoplay, James R. Quirk, declarou que “Adela sabia mais sobre Hollywood e sobre a colônia do cinema do que qualquer outra pessoa no mundo”.
Adela Rogers St. Johns desempenhou um papel importante na indústria cinematográfica de Hollywood. Ela escreveu vários argumentos ou fez adaptações para filmes silenciosos como The Red Kimona / 1925 e Entre Luvas e Baionetas / The Patent Leather Kid / 1927 e seu primeiro romance serviu de base para Dominada pela Vaidade / The Skyrocket / 1926, um dos seus trabalhos levados à tela nos anos 20. Adela foi vivida na tela por Norma Shearer em Uma Alma Livre / A Free Soul /1931, adaptação de outro romance de sua autoria, tratando, de maneira ficcional, o seu relacionamento com o pai. Entre outras de suas contribuições para o cinema está Hollywood / What Price Hollywood? / 1932, pelo qual ela recebeu uma indicação para o Oscar de Melhor História Original.
Em agosto de 1935, a Photoplay foi comprada pela Macfadden Publications e, em janeiro de 1941, ela se fundiu com a Movie Mirror, outra publicação do grupo Macfadden. Nesta ocasião, um editorial anunciou o acréscimo de uma nova seção de retratos em cores, utilizando as fotos Kodachrome dos estúdios juntamente com retratos especialmente fotografados por Hyman Fink, contatado com exclusividade pela revista.
No dia 15 de abril de 1980, Photoplay publicou seu último número, não com sua capa cor de rosa e escarlate mostrando um dos astros do cinema que ela ajudou a se tornar famoso, mas com duas atrizes da televisão, Victoria Principal e Charlene Tilton do seriado Dallas.
Fundada em 1931, dois anos depois a Modern Screen já havia se estabelecido como a única concorrente da Photoplay, orgulhando-se de ser a revista de fãs de maior circulação nos Estados Unidos. No seu número de setembro do mesmo ano, oferecia aos seus leitores o trabalho do mais célebre fotógrafo de glamour de Hollywood, George Hurrell, mostrando suas fotos sob o título de “A Great Photographer’s Greatest Portraits”. Entre os retratos incluíam-se os de Jean Harlow, Constance Bennett, Douglas Fairbanks Jr., Johnny Weissmuller, Joan Crawford, Carole Lombard, Helen Hayes, Sally Eilers e Joe E. Brown e seu filho.
Nos anos 40, Louella Parsons escrevia uma coluna de mexericos intitulada de forma variada “Good News” ou “Louella Parsons in Hollywood”, que continuou a ser publicada até os anos 70. As resenhas de filmes estavam a cargo de Christopher Kane e depois Florence Epstein. Em acréscimo, a revista recebia a colaboração esporádica de personalidades como o crítico do New York Times, Bosley Crother ou o dramaturgo Moss Hart.
No início dos anos 50, a revista oferecia artigos supostamente escritos pelas estrelas, porém redigidos por publicistas anônimos: “An Open Lettter from Judy Garland”, “Sex is not Enough” por Lana Turner, “What Men Have Done To Me?” por Joan Crawford e dois artigos “de autoria” de Marilyn Monroe: “I Am an Orphan” e “Who’d Marry Me?”.
Como não pretendo esgotar o assunto, mas apenas lembrar algumas revistas de fãs mais importantes da “Época de Ouro”, vou citar particularmente aquelas que chegaram aos anos 70 e 80 e que eu comprava nas nossas bancas de jornais entre o final dos anos 40 e meados de 50, quando, aos poucos, fui encontrando outras publicações mais substanciosas como a Cahiers du Cinéma ou Télérama. Eram elas: a Photoplay (1911-1980) e a Modern Screen (1931-1985), já mencionadas; Movie Life (1937-1980), Screen Stories (1919-1975), Screenland (1920 até 1952, quando se fundiu com a Silver Screen) e Silver Screen (1930-1976). Quem quiser se aprofundar no assunto procure o livro de Anthony Slide, o mais completo sobre revistas de fãs americanas.
Poderosos colunistas de mexericos era o que os jornais possuíam e as revistas de fãs não – e o que os estúdios temiam. Por exemplo, “Cal York” era o nome do colunista de mexericos da Photoplay, porém tal pessoa não existia – o “Carl” era abreviação de Califórnia e o “York” de Nova York, indicativo dos dois escritórios editoriais, que forneciam as fofocas para a coluna. Não existia nenhum “Carl York” escrevendo nos jornais, porém havia Louella Parsons no final dos anos 30 e também Hedda Hopper. O poder dessas duas mulheres é legendário e elas eram intocáveis pelos estúdios. Portanto, não foi surpresa as duas terem sido muito bem recebidas como colaboradoras pelas revistas de fãs. Antes de ser colunista, Hedda Hopper foi atriz desde o tempo do cinema mudo até 1966, quando teve uma participação em Confidências de Hollywood / The Oscar; porém vocês devem se lembrar mais dela na ponta que fez em Crepúsculo dos Deuses / Sunset Boulevard / 1950, jogando pôquer com Buster Keaton, H. B. Warner e Anna Q. Nilsson.
Uma terceira colunista, Sheila Graham, gostava de se colocar no mesmo nível de Louella Parsons e Hedda Hopper. Sheila manteve um relacionamento com F. Scott Fitzgerald, sobre o qual ela escreveu em Beloved Infidel. O livro se tornou um filme de 1959 (Ídolo de Cristal / Beloved Infidel), no qual Sheila foi protagonizada por Deborah Kerr, que ela havia entrevistado para a Photoplay em novembro de 1947. Tal como suas colegas Louella (The Gay Illiterate) e Hedda (Under my Hat), Sheila escreveu um livro de memórias (Confessions of a Hollywood Columnist). Ela trabalhou para a Photoplay de 1944 a 1963.
Em dezembro de 1952, o mundo das revistas de fãs mudou para sempre, quando apareceu o primeiro número da Confidential. Ela fez com os astros de Hollywood o que aquelas revistas não puderam fazer. Revelou os seus hábitos e costumes escandalosos, sem pedido de desculpas e sem constrangimento, “contando os fatos e dando os nomes”, como prometia o seu cabeçalho – e geralmente os fatos eram corretos e os nomes bem conhecidos. A Confidential não deve ser confundida com uma revista de fãs, mesmo que sua influência sobre estas viesse a ser, no final das contas, devastadora.
Foi somente no seu terceiro número, de agosto de 1953, que a Confidential começou a dar prioridade a Hollywood com uma matéria sobre Robert Mitchum, visto completamente despido e todo coberto de ketchup, numa festa cujo anfitrião era Charles Laughton.
Houve vários processos judiciais nos quais a Confidential quase sempre ganhava as causas, mas a distribuição do seu número de julho de 1957 foi proibida pelo Procurador-Geral do Estado. Em setembro de 1957, a revista publicou uma declaração de duas páginas, intitulada “Hollywood vs. Confidential”, na qual anunciava: “A Califórnia nos acusou de um crime – o crime de dizer a verdade”.
As ações na justiça forçaram o fundador da revista, Robert Harrison, a vendê-la em julho de 1958 e o novo proprietário, Hy Steirman, tentou se manter afastado dos mexericos de Hollywood. Na realidade, a revista estava para ser ultrapassada por uma nova publicação, a National Enquirer. Tanto a Confidential como o seu fundador morreram no mesmo ano, 1978.